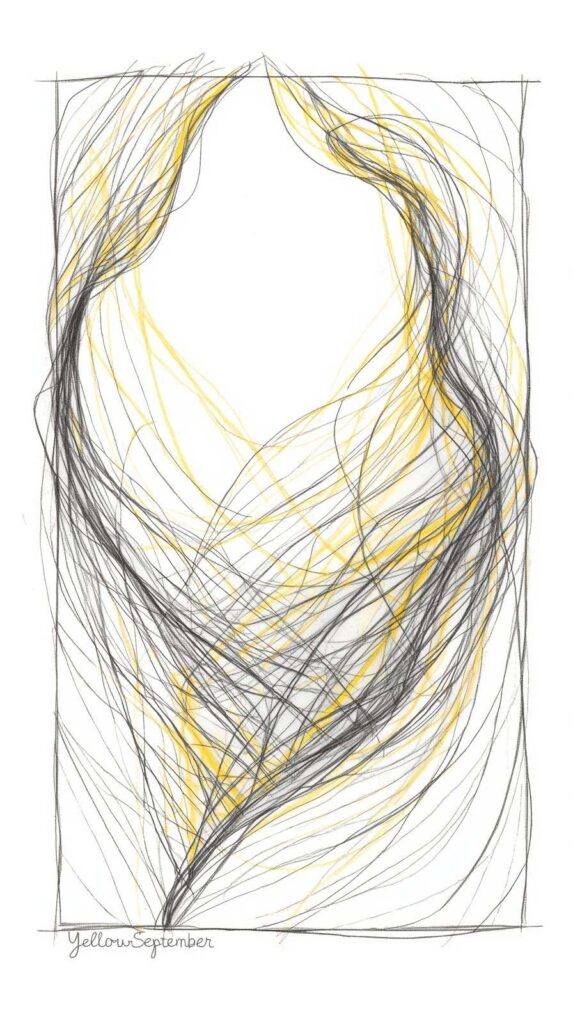
O movimento que hoje conhecemos como Setembro Amarelo não nasceu de estatísticas ou de campanhas institucionais, mas sim de uma história profundamente humana. Em 1994, nos Estados Unidos, a dor da família de Mike Emme, um jovem de apenas 17 anos que tirou a própria vida, transformou-se em um gesto coletivo de solidariedade. Durante seu funeral, seus pais distribuíram fitas amarelas como convite para que as pessoas compartilhassem suas angústias e buscassem ajuda sempre que necessário. O amarelo foi escolhido por simbolizar luz, esperança e solidariedade, evocando a imagem do sol após a tempestade. A iniciativa ganhou força e se expandiu pelo mundo, tornando-se um símbolo de acolhimento, empatia e prevenção.
No Brasil, o movimento foi oficialmente reconhecido em 2015, e desde então setembro passou a ser o mês dedicado à prevenção ao suicídio e à reflexão sobre saúde mental. Desde então, o amarelo ilumina ruas, escolas, instituições e redes sociais, convidando a sociedade a romper o silêncio, a promover a escuta ativa e a cultivar uma postura de maior sensibilidade diante do sofrimento humano. Mais do que uma campanha, Setembro Amarelo se consolidou como um chamado à vida, à empatia e ao cuidado mútuo.
Apesar da expansão do movimento e da crescente conscientização, o cenário brasileiro ainda traz dados preocupantes. Segundo o Ministério da Saúde (2023), o suicídio é a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Mais de 16 milhões de brasileiros convivem com depressão ou outros transtornos mentais, muitas vezes escondendo suas dores atrás de respostas automáticas como “estou bem”. Esse sofrimento é multifacetado e atravessa diferentes contextos sociais: o bullying escolar corrói a autoestima e gera isolamento; a rejeição mina a confiança e alimenta a sensação de inadequação; o racismo continua a marcar trajetórias e a limitar oportunidades; mulheres seguem sendo vítimas de violência de gênero que vai do assédio ao feminicídio; povos indígenas e comunidades ribeirinhas enfrentam a marginalização e a negação de direitos básicos; pessoas com deficiência lidam com o capacitismo que restringe sua plena inclusão social. No caso da população LGBTQIA+, a vulnerabilidade é ainda mais evidente. De acordo com o relatório do Grupo Gay da Bahia (2022), uma pessoa LGBTQIA+ é morta a cada 32 horas no país, vítima de crimes de ódio. Esses dados revelam não apenas a violência explícita, mas também as feridas invisíveis deixadas pela exclusão, pelo medo e pelo preconceito.
Essas diferentes formas de dor social mostram que o sofrimento humano não nasce apenas de circunstâncias individuais, mas também de estruturas de injustiça que atravessam a vida cotidiana. Falar sobre prevenção ao suicídio, portanto, é também falar sobre dignidade, pertencimento e direito à vida em sua plenitude.
É fundamental compreender que o sofrimento faz parte da condição humana, mas não precisa ser enfrentado em solidão. Muitas vezes, diante da pergunta “como você está?”, respondemos mecanicamente que estamos bem, mesmo quando carregamos dentro de nós vazios e angústias que não conseguimos nomear. O silêncio surge do medo do julgamento, da vergonha das próprias fragilidades ou da dificuldade de traduzir em palavras o que machuca. Em muitos momentos, tudo o que precisamos é de colo: escuta sem pressa, sem exigências, apenas a presença acolhedora de alguém que se dispõe a estar conosco. Criar espaços de diálogo franco e aberto, onde sentimentos possam ser expressos sem a obrigação de encontrar respostas imediatas, é um gesto capaz de aliviar dores e transformar experiências de isolamento em experiências de cuidado.
A psicologia nos mostra que aceitar a dor não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Carl Rogers nos lembra que “o curioso paradoxo é que quando me aceito exatamente como sou, então posso mudar”. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, nos ensinou que “quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos”. Essas reflexões apontam para a importância de acolher o sofrimento em vez de negá-lo, reconhecendo que a vulnerabilidade é parte do processo humano e que, ao compartilhar nossas dores, fortalecemos laços de pertencimento. Aceitar o sofrimento não significa resignar-se, mas abrir espaço para o autoconhecimento e para novas possibilidades de vida.
Falar sobre dor, paradoxalmente, também é falar sobre esperança. O Setembro Amarelo convida ao reconhecimento da fragilidade, pois é na aceitação do sofrimento que nasce a possibilidade de transformação. Como escreveu Albert Camus: “No meio do inverno, aprendi finalmente que havia em mim um verão invencível.” Essa ideia traduz a essência do movimento: mesmo em meio ao caos e à escuridão, existe uma força interior capaz de resistir e de buscar sentido. A esperança, assim, não deve se limitar a um mês do calendário, mas se tornar uma atitude cotidiana, expressa em pequenos gestos de escuta, cuidado e respeito.
Construir espaços de escuta é uma tarefa coletiva. Cada pessoa carrega uma história única, marcada por desafios e superações, e merece ser respeitada em sua singularidade. Não precisamos procurar culpados ou sentir vergonha de nossas histórias. O acolhimento começa pelo olhar generoso para si e para o outro, pela disposição de caminhar junto, mesmo sem compreender todas as dores que nos atravessam. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. Apoio pode vir de familiares, amigos, profissionais da saúde ou até mesmo de desconhecidos dispostos a ouvir. O simples gesto de dizer “estou aqui para você” pode marcar o início de um caminho de transformação, de partilha do peso do sofrimento e de sustentação da esperança quando ela parece ameaçada.
Que o amarelo não seja apenas uma cor no calendário de setembro, mas um lembrete constante de que cada vida tem valor inestimável. Todos os dias são importantes para ressignificar e reconstruir o que tenta nos paralisar diante das dores. Não importa o tamanho do vazio ou a profundidade do sofrimento: o que importa é a disposição de viver, de buscar sentido e de abrir-se ao cuidado. O compromisso com a vida é também o compromisso com a esperança — com a luz que atravessa o inverno e revela o verão invencível que habita em cada um de nós.
Referências
- Ministério da Saúde. (2023). Suicídio e saúde mental no Brasil: dados atualizados. Brasília: MS.
- Organização Mundial da Saúde (OMS). (2023). Depressão e transtornos mentais no mundo. Genebra: OMS.
- Grupo Gay da Bahia. (2022). Relatório de Violência contra LGBTI+ no Brasil. Salvador: GGB.
- Frankl, V. (1991). Em busca de sentido. Petrópolis: Vozes.
- Rogers, C. (1961). Tornar-se pessoa. São Paulo: Martins Fontes.
- Camus, A. (1996). O mito de Sísifo. Rio de Janeiro: Record.
Reflexões sobre o valor da vida e o poder do acolhimento
Texto: Vera Lucia Rafael Lima – CRP 06/89858 – Psicóloga Clínica

